Na linguagem comum, distopia é entendida como uma inversão da utopia, sua negação total. Portanto, se a utopia descreve os contornos de uma sociedade ideal, superior e mais justa, a distopia delineia os traços de uma sociedade assustadora, inferior e mais injusta. No entanto, em vez de ser uma negação da utopia, a distopia pode ser sua essência. Toda distopia, na verdade, é um grito de alarme contra o status quo, é uma denúncia moral contra uma realidade percebida como opressiva e desumana. Para evitar que o passado e o presente se transformem em um pesadelo futuro, a ficção distópica atua de forma preventiva, alertando a todos nós . Quando escrevemos de distopia?
Por Luca Gino Castellin (Professor Associado de História das Doutrinas Políticas, Universidade Católica de Milão)Na linguagem comum, distopia é entendida como uma inversão da utopia, sua negação total. Portanto, se a utopia descreve os contornos de uma sociedade ideal, superior e mais justa, a distopia delineia os traços de uma sociedade assustadora, inferior e mais injusta. No entanto, em vez de ser uma negação da utopia, a distopia pode ser sua essência. Toda distopia, na verdade, é um grito de alarme contra o status quo, é uma denúncia moral contra uma realidade percebida como opressiva e desumana. Para evitar que o passado e o presente se transformem em um pesadelo futuro, a ficção distópica age preventivamente, alertando a nós .
As raízes do gênero distópico: política, ciência e tecnologia
De acordo com o Oxford English Dictionary, a paternidade do termo distopia – do grego dys- (ruim) e topos (lugar) – pode ser rastreada até o filósofo John Stuart Mill, que o usou pela primeira vez durante um discurso no Parlamento Inglês em 1868. Esta data é muito importante, porque oferece uma referência histórica fundamental para contextualizar a ascensão do gênero distópico. Se, de fato, a distopia reflete como um teste decisivo os medos e ansiedades típicos de uma época, é somente no século XIX que tais preocupações começam a se manifestar.
A certidão de nascimento da proto-história da ficção distópica pode ser encontrada no divisor de águas da Revolução Francesa. O ideal palingenético de fúria revolucionária, a aspiração de criar o “novo homem” e fundar uma sociedade perfeita, não só mostram suas terríveis consequências políticas e sociais muito rapidamente, mas também contribuem para moldar o pesadelo (futuro) que alimenta a imaginação distópica.
Junto com – e talvez até mais do que – a política, são a ciência e a tecnologia, com suas sinistras implicações sociais, culturais e econômicas, que estão desencadeando a distopia moderna. O alvo polêmico é a hybris do homem moderno, o pecado da arrogância e da vaidade contra os limites naturais e morais da existência e da realidade. Em 1818, com a publicação de Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, Mary Shelley não apenas inaugurou a tradição da ficção científica, mas também atuou como catalisadora do cânone distópico. Em sua obra mais famosa, a autora aborda os perigos que assombram a distopia do século XX. O tema da hybris, como indica o significativo subtítulo (precisamente, o “Prometeu moderno”), é central, precisamente porque nele está presente a ideia de que a ciência e a tecnologia estão destinadas a mudar (para pior) as condições de vida e de trabalho do homem, bem como a minar profundamente a própria natureza humana.
Na segunda metade do século XIX, juntamente com o avanço do espectro do comunismo, multiplicaram-se os sinais de alarme em relação à ciência e à política. Há uma crença crescente de que um paraíso utópico pode, na verdade, esconder um inferno distópico.
A Era da Distopia Totalitária: Wells, Zamyatin, Huxley e Orwell
Se há um ponto em que todos os estudiosos parecem concordar, é em reconhecer Herbert George Wells como o verdadeiro fundador da distopia moderna. No período entre o final do século XIX e o início do século XX, o autor inglês publicou uma série de contos que constituem um verdadeiro ciclo distópico, construído sobre a atmosfera de fim de século da era vitoriana, que começa com A Máquina do Tempo (1895) e termina com A Forma das Coisas (1933).
Rossana Köpf – psicanalista
Este post já foi lido2653 times!
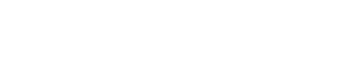




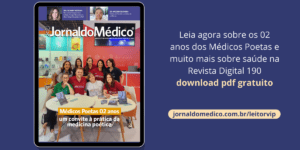














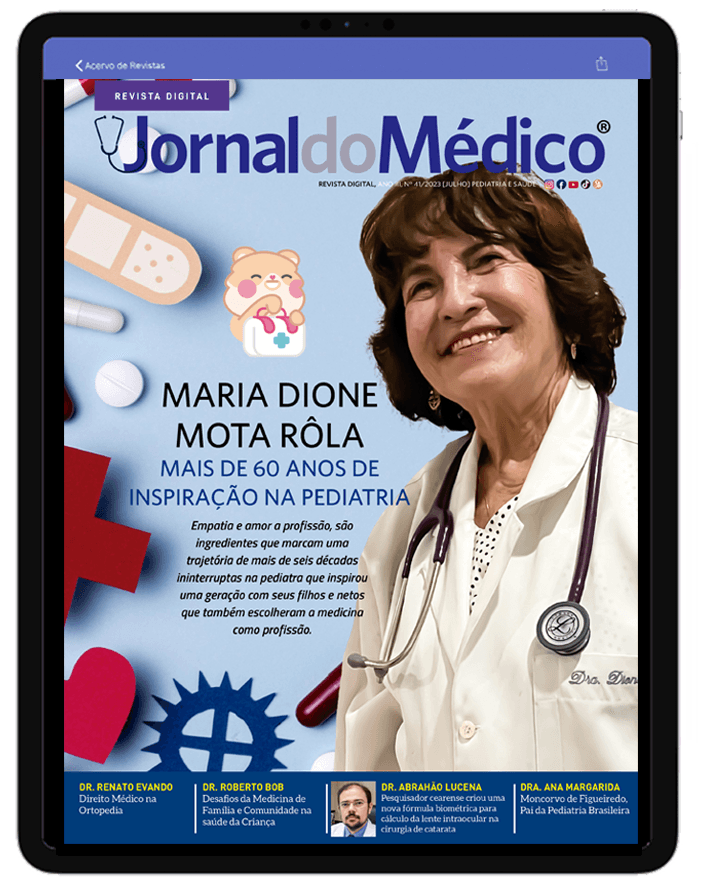
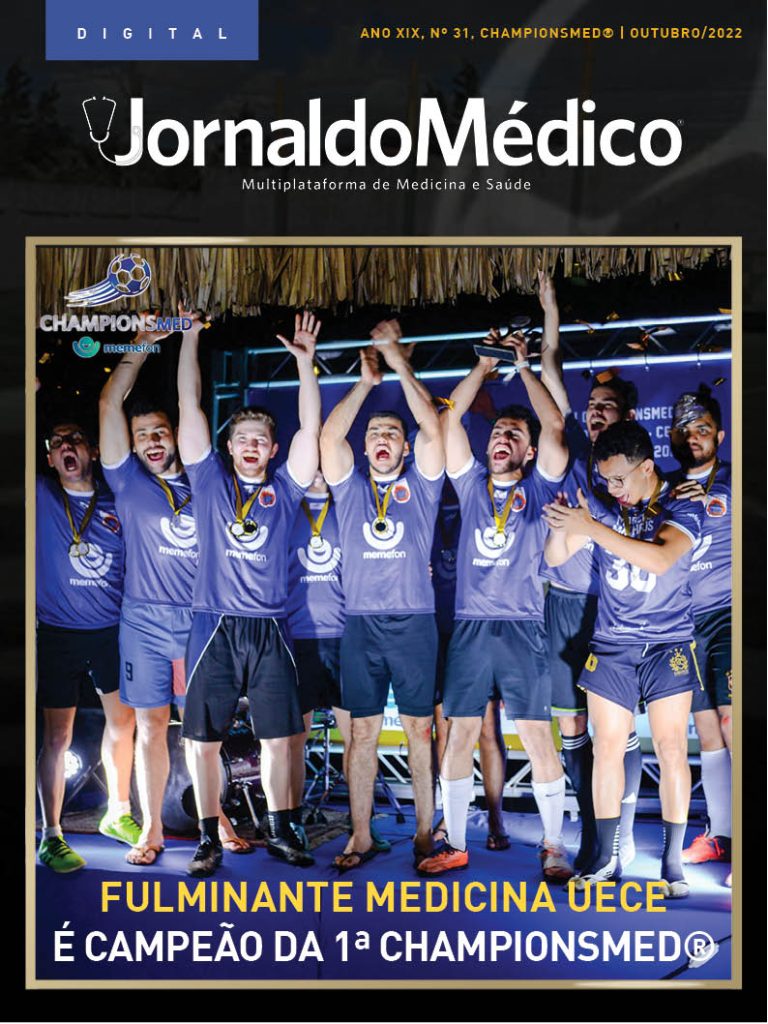

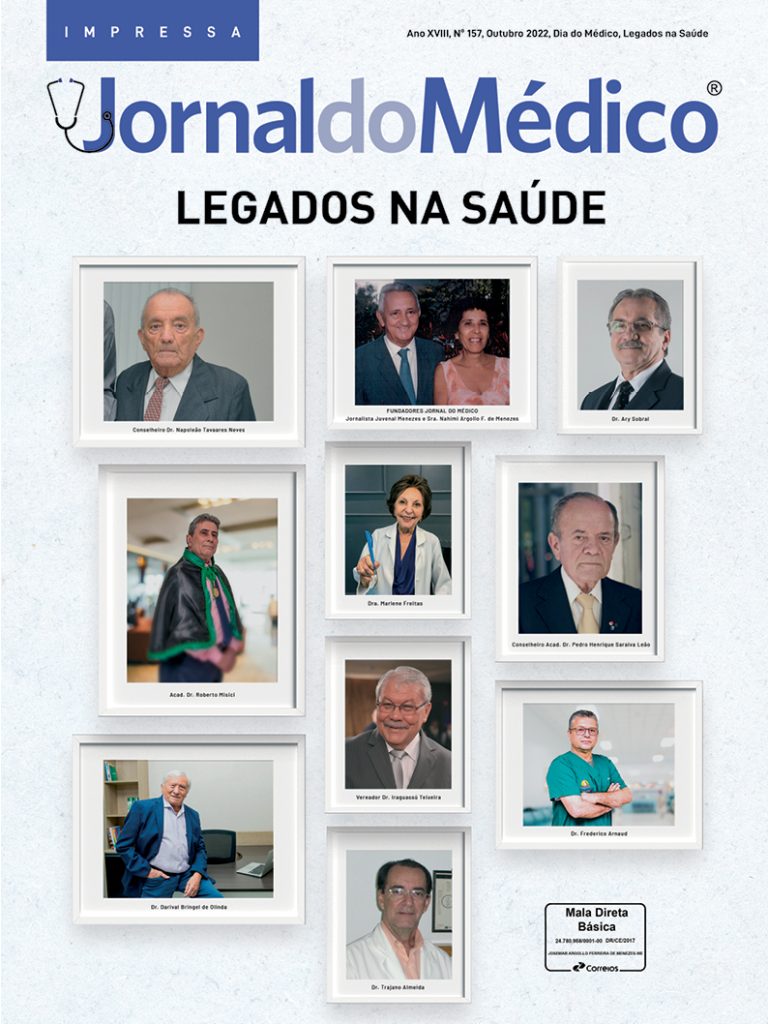
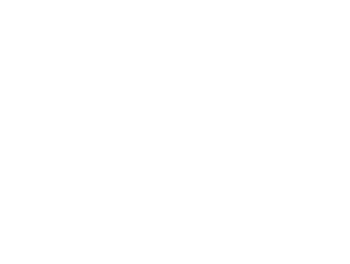
You must be logged in to post a comment Login